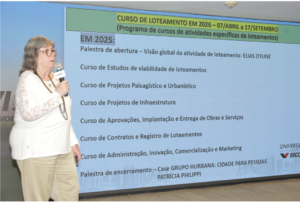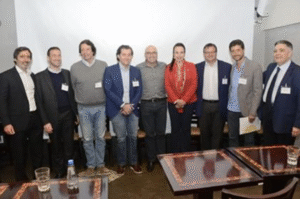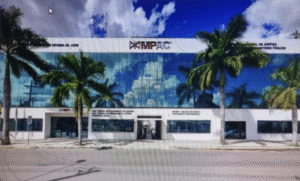O site Consultor Jurídico (ConJur) publicou, em 3 de outubro, o artigo “Loteamento irregular: demolição em massa não solução ambiental”, do advogado Tiago Martins. O autor é cofundador do escritório Martins Zanchet Advocacia Ambiental, mestre em Direito e Desenvolvimento Sustentável: Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário do Pará, em Belém. É professor universitário de Graduação e em Pós-Graduação, professor de Direito Ambiental e sócio fundador da Escola de Direito Ambiental.


O AELO ON reproduz, a seguir, o texto do advogado Tiago Martins.
A narrativa de que a demolição em massa de construções erguidas em loteamentos irregulares funcionaria como uma espécie de “cura ambiental” ainda encontra eco em setores do debate jurídico e administrativo. Contudo, essa visão simplista ignora a realidade complexa dos núcleos urbanos já consolidados.
li, a medida extrema da demolição não apenas deixa de cumprir a promessa de proteção ecológica, como também se converte em fator de novas e profundas degradações. Montanhas de entulho, instabilidade do solo, assoreamento de corpos d’água e poluição difusa são apenas alguns dos efeitos colaterais, somados ao drama humano de famílias desalojadas e comunidades inteiras desestruturadas.
É preciso reconhecer que a destruição pura e simples não restitui o equilíbrio ambiental — ao contrário, frequentemente amplia o passivo. Em lugar de resultados positivos, o que se observa é um cenário de “dupla degradação”: a causada originalmente pelo loteamento irregular e a provocada pela própria demolição.
O custo social e ambiental de medidas tão radicais supera, em muito, qualquer benefício teórico que se pretenda justificar em nome da legalidade estrita. Assim, insistir na demolição como resposta automática equivale a adotar uma política ambiental de alto custo e baixo retorno, que despreza o princípio da proporcionalidade e frustra a busca por resultados sustentáveis.
A verdadeira tutela ambiental, nesses contextos, exige inteligência jurídica e compromisso técnico. A regularização fundiária, acompanhada de rigorosas adequações ambientais, é o caminho que melhor harmoniza a proteção ecológica com os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.
E aqui cabe um ponto crucial: tal solução não exonera o loteador que deu causa à irregularidade. Ao contrário, ele permanece obrigado a financiar planos de recuperação de áreas degradadas, compensações ambientais e obras de infraestrutura sustentável.
Trata-se de uma sanção que não destrói, mas reconstrói; que não agrava o dano, mas o mitiga; que não se contenta com símbolos punitivos, mas entrega resultados ambientais e sociais efetivos.
Fundamentos constitucionais e urbanísticos
A Constituição, em seu artigo 225, é clara e contundente ao proclamar que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Não se trata de um enunciado meramente programático, mas de um verdadeiro mandamento civilizatório, que coloca o meio ambiente no patamar de condição existencial para a vida digna.
Ao lado dessa diretriz, o artigo 6º da mesma Carta consagra a moradia como direito social fundamental, enquanto o artigo 5º, inciso XXIII, estabelece que a propriedade deve cumprir sua função social.
Em outras palavras, a Constituição não admite a leitura fragmentada de seus dispositivos: meio ambiente, moradia e função social da propriedade formam um trinômio inseparável, cujo equilíbrio é indispensável para a justiça social e para a ordem urbana.
É nesse ponto que o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) atua como ponte normativa e hermenêutica. Ao consagrar a função social da cidade e do uso da propriedade urbana, a lei reafirma que não há contradição entre proteger o ambiente e garantir moradia — pelo contrário, há uma convergência necessária.
A construção de cidades sustentáveis depende justamente dessa leitura harmônica, que recusa soluções simplistas, como a mera demolição, e aposta em estratégias integradas, capazes de conciliar ecologia, justiça social e planejamento urbano responsável.
O que diz a Lei da Reurb (Lei 13.465/2017)
A Lei nº 13.465/2017, marco normativo da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), foi concebida não apenas como instrumento de inclusão social, mas também como ferramenta de aprimoramento ambiental em contextos já consolidados.
O artigo 11, § 2º, é emblemático nesse sentido: “Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651/2012, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso.”
Logo, a lei não apenas reconhece a consolidação da ocupação, mas impõe como condição a produção de ganhos ambientais concretos em relação ao quadro de degradação anterior.
A força dessa diretriz é ampliada pelo § 3º do mesmo dispositivo, que exige cautela redobrada quando se tratar de unidades de conservação de uso sustentável: “No caso de a Reurb abranger área de unidade de conservação de uso sustentável que, nos termos da Lei nº 9.985/2000, admita regularização, será exigida também a anuência do órgão gestor da unidade, desde que estudo técnico comprove que essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior.”
Aqui, o legislador deixa explícito que não basta regularizar; é imprescindível demonstrar que a intervenção representará um salto qualitativo para o ecossistema, conciliando permanência da comunidade com ganhos ambientais mensuráveis.
O § 4º, por sua vez, enfrenta a delicada questão dos reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público, ao determinar que a faixa de preservação permanente será medida entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.
Trata-se de uma regra de precisão técnica, que busca compatibilizar a segurança hídrica com a proteção ambiental e a necessidade de ordenar a ocupação humana nesses espaços.
O recado do conjunto normativo é inequívoco: a Reurb não legitima a destruição indiscriminada, tampouco tolera a perpetuação da irregularidade; ao contrário, exige estudos técnicos sérios, compensações ambientais proporcionais e, sobretudo, a demonstração de que o caminho da regularização conduz a uma situação ambiental superior àquela deixada pela informalidade. É o Estado dizendo, em linguagem inequívoca, que regularizar é melhorar — e não demolir às cegas.
Por que a demolição pode ser contraproducente
A execução indiscriminada de ordens de demolição em núcleos amplamente consolidados não representa um retorno à natureza, mas sim um mergulho em novas formas de degradação.
Em vez de restaurar o equilíbrio perdido, abre-se caminho para assoreamento de corpos hídricos, perda de cobertura vegetal residual e instabilidade de encostas e taludes.
O que se apresenta como “remédio” assume, na verdade, contornos de veneno: um impacto de grande magnitude sobre ecossistemas já fragilizados, somado ao trauma social de populações inteiras subitamente destituídas de seus lares.
A derrubada em massa também transforma o ambiente urbano em um campo de entulho, poeira e poluição difusa. Milhares de toneladas de resíduos gerados pela destruição de casas e infraestruturas alimentam o ciclo da degradação e inviabilizam soluções sustentáveis que poderiam ser implementadas no mesmo espaço.
Com a demolição, perde-se a chance de converter áreas irregulares em territórios ambientalmente requalificados por meio de parques lineares, reflorestamento funcional, drenagem adequada, pavimentação permeável e redes de saneamento. O que poderia ser a oportunidade de regeneração se converte em um espetáculo de desperdício.
Não por acaso, o próprio ordenamento jurídico rejeita a lógica da destruição cega. A Lei nº 9.985/2000, ao disciplinar as unidades de conservação, admite a regularização fundiária em áreas de proteção ambiental (APAs), desde que acompanhada de estudos técnicos capazes de demonstrar melhorias ambientais em relação ao quadro anterior.
Em outras palavras, a lei impõe que a permanência das comunidades seja compatibilizada com a recuperação ecológica, orientando o poder público a buscar resultados ambientais concretos, e não símbolos de punição que, em última análise, aprofundam a ferida que pretendiam curar.
Responsabilização do loteador irregular
A Regularização Fundiária Urbana (Reurb) foi concebida como instrumento de integração social e de ordenação urbana, mas o legislador foi explícito ao vedar qualquer interpretação que pudesse transformá-la em salvo-conduto para os loteadores irregulares.
O artigo 14, § 3º, da Lei nº 13.465/2017 dispõe textualmente: “O requerimento de instauração da Reurb por proprietários de terreno, loteadores e incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou os seus sucessores, não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal.” Trata-se de cláusula de preservação do princípio da responsabilização, que evita a perversidade de premiar a conduta ilícita sob o pretexto da regularização.
Nessa linha, a regularização não opera como remissão dos ilícitos passados. O loteador que promoveu parcelamento irregular do solo urbano continua responsável por custear planos de recuperação de áreas degradadas, implantar obras de drenagem, saneamento, contenção de encostas e adotar medidas compensatórias ambientais.
A Reurb não o exonera desses encargos; ao contrário, fornece o marco jurídico para que sejam exigidos de modo mais racional e integrado. Assim, a figura do loteador permanece no centro da responsabilização, com obrigações que não se extinguem pela mera expectativa de regularização.
O que se impugna, portanto, é a prática de imputar a terceiros de boa-fé — adquirentes de lotes e moradores já estabilizados — as consequências drásticas de uma demolição massiva, que, além de injusta, pode acarretar novos danos ambientais.
Derrubar núcleos inteiros, sob o manto de uma suposta reparação, significa converter a sanção em nova agressão ecológica, com entulhos, supressão secundária de vegetação, instabilidade de solos e riscos de assoreamento.
A Constituição, ao mesmo tempo em que garante o direito ao meio ambiente equilibrado (artigo 225), assegura também o direito à moradia (artigo 6º) e a função social da propriedade (artigo 5º, XXIII), impondo uma leitura integrada que prestigie a proporcionalidade.
A responsabilização do loteador irregular deve ser rigorosa, mas jamais cega a ponto de sacrificar o resultado ambiental líquido e a dignidade de terceiros inocentes. A demolição não pode ser tratada como solução padrão em núcleos urbanos consolidados, sob pena de violar a lógica preventiva e reparatória do direito ambiental. O caminho constitucional e legal é exigir do responsável a recomposição e a compensação adequadas, transformando o ilícito em oportunidade de melhoria ambiental, e não em pretexto para novos desastres sob o nome de “reparação”.
Entre a demolição e a prudência: o exemplo do TJ-DFT na proteção ambiental e urbana
Um exemplo recente de sensibilidade jurídica e prudência ambiental vem do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na Apelação Cível nº 0708109-09.2018.8.07.0018, em decisão monocrática de 24 de setembro de 2025, o desembargador James Eduardo Oliveira reconheceu que “não é possível descartar, pelo menos no plano da cognição superficial, a possibilidade de regularização do parcelamento do solo discutido nos autos, tendo em vista os vários mecanismos de Regularização Fundiária Urbana contemplados na Lei Complementar Distrital 986/2021 e no Decreto Distrital 46.741/2005”.
Essa afirmação, ainda que em caráter provisório, revela a lucidez de uma interpretação que não confunde rigor com precipitação e que coloca a proteção ambiental em diálogo com a realidade urbana consolidada.
Na mesma decisão, o relator advertiu para o risco de irreversibilidade, ao consignar que “a eficácia imediata da sentença autorizaria o início das demolições e, consequentemente, provocaria danos irreversíveis aos apelantes”.
Diante disso, deferiu efeito suspensivo para sustar a ordem de demolição até o julgamento final da apelação. O gesto judicial não representa complacência com a irregularidade, mas a escolha pela precaução, evitando que uma medida extrema, de difícil reversão, cause mais degradação do que preservação. É a aplicação concreta do princípio da proporcionalidade, que exige respostas ponderadas diante de situações de alta complexidade socioambiental.
Ainda que não configure jurisprudência consolidada ou precedente vinculante, essa decisão monocrática já se apresenta como paradigma a ser seguido, pois sinaliza uma linha de raciocínio que harmoniza direito à moradia, proteção ambiental e segurança jurídica.
Mais do que uma manifestação isolada, ela inaugura um entendimento que merece ser fortalecido no Judiciário: o de que a regularização fundiária, acompanhada de rigorosos estudos técnicos e compensações ambientais, pode ser mais eficaz do que a demolição cega. Trata-se de um exemplo de prudência judicial que deve inspirar futuros julgados em todo o país.
Medidas compensatórias: quando a regularização transforma o dano em oportunidade
A solução mais inteligente para conciliar a proteção ambiental com os direitos fundamentais em áreas urbanas já consolidadas não está na demolição indiscriminada, mas na adoção de medidas compensatórias e de adequação capazes de reverter, tanto quanto possível, os efeitos negativos da ocupação irregular.
Instrumentos como os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), o reflorestamento com espécies nativas, a implantação de sistemas de drenagem e saneamento, bem como a recuperação de áreas de preservação permanente, convertem o espaço antes degradado em território de resiliência ambiental.
O monitoramento e a manutenção continuada asseguram que tais medidas não sejam pontuais, mas se perpetuem no tempo, produzindo ganhos ambientais concretos e duradouros.
Essas providências, contudo, não podem recair sobre a coletividade inocente. É o loteador irregular — responsável pela formação do núcleo informal — quem deve arcar com os custos de sua recomposição, custeando integralmente as intervenções necessárias.
Assim, ao mesmo tempo em que se impõe a responsabilização de quem deu causa à irregularidade, garante-se que a resposta do Estado seja eficaz, proporcional e justa.